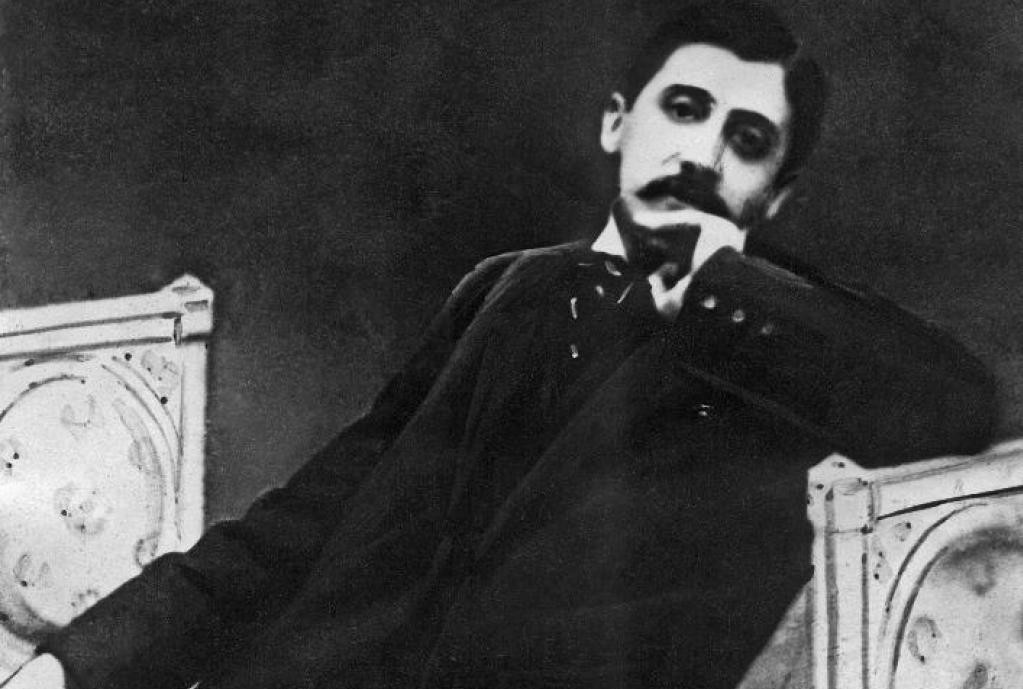Giulia Borges é médica nefrologista e escritora.
Há 3 meses recebeu do pai o conselho de usar máscara no metrô e comprar álcool em gel. Alarmismo. O vírus aterrorizava o outro lado do mundo. Sua rotina de trabalho como médico em nada parecia afetada. Mas bastou que o globo desse uma volta de 360 graus para tudo parecer frágil. Sentira que seus remédios somados às sessões semanais de terapia, agora suspensas, não o sustentariam. Seu forte ainda estava em construção. O questionamento sobre vocação e escolhas profissionais voltariam à superfície arrombando o chão. O buraco deixado seria negro demais para ser coberto com um tapete. Ficaria doente. Mas essa certeza não serviria de atestado válido para não se alistar à campanha.
– Nessa guerra, o inimigo é invisível! – o discurso de ordem soava da televisão ligada. O noticiário era a mão que saía toda noite debaixo da cama. Sem afago, o prendia na cama, só os olhos arregalados, projetando o próprio futuro em uma tela sem cor.
A mãe de família. Filha de pai doente. Mantinha-se isolada das notícias da grande mídia sensacionalista. Devota de Nossa Sra. Aparecida. Comparecia de modo virtual a todos chamados de sua congregação para preces pelo combate à epidemia. Na última semana gastou mais de mil reais em máscara N95 para uso próprio. Não tocava em nada com as mãos nuas. Esgotou o estoque de sabão e papel toalha do serviço. Foi repreendida pelo chefe por disseminar pânico e desconforto. No final do plantão ela tossiu. O peito estava apertado. Retirou a máscara depois de 14 horas e respirou o ar fresco no estacionamento da clínica. Voltou para casa sem atraso, precisava dispensar a babá pelo dia. A filha se ocupara com três aulas online e ainda arranjara energia para deixar sua cuidadora prestes a pedir demissão. O pai estava muito bem. -Sim, usei a máscara no mercado. Não, não tive problema em ir dirigindo. Só preciso de um pouco de espaço para respirar.– desligou o telefone.
A calvície avançada brigava com a barriga protuberante pelo holofote. O homem de meia idade era o dono do boteco de esquina. Com um copo de cerveja na mão, ele se exalta diante da insanidade de parar o mundo por causa de uma gripe. Que se foda esse vírus. Mais três homens o acompanhavam, sentados em cadeiras de plástico ao redor de uma mesa vermelha com o logo da Brahma. Eram os únicos na calçada de uma rua de um bairro recluso. As sirenes de um carro da polícia prenunciam a multa. O aviso foi há uma semana. O número de transeuntes, incontáveis.
Completava o quinto dia de febre. Não tinha plano de saúde. Mas tinha garantido seu contato três vezes por semana com profissionais da saúde. Era dia de sessão de diálise. Não conseguiu mais se omitir. O ar faltou de vez. O sangue sujo ficou em segundo lugar. Depois da recusa de dois hospitais públicos por lotação, garantiu a ambulância e a entrada ao pronto socorro, pagas pela clínica. Seria mais uma maca em um corredor, reforçando o coro de tosses e arfadas. A esposa o acompanhou durante todo tempo sem máscara de proteção. Passados alguns dias, seis de seus companheiros de turno serviriam de prova do contágio em progressão geométrica. Dois entrariam para estatística como óbito pela infecção.
O motorista de Uber usava uma máscara torta. Deixara as quatro janelas abertas. Aceitou mais uma corrida rápida. O trânsito estava estacionado nas garagens dos privilegiados. Ele notou o avental branco no colo do passageiro. O trajeto era de um hospital até outro. Ofereceu o álcool em gel que ocupava o guarda-copos. O médico disse ter o dele, obrigado. Enquanto avançava tranquilo por mais um sinal, reclamava sobre o marasmo dos dias. Poucas corridas. – É tudo isso que tão falando por aí, doutor? – o médico apenas bufou em resposta.
Os cabelos e barba grisalhos escancaravam a sétima década de vida do homem que servia de orador de um amontoado animalesco que berrava em uma avenida bloqueada. Vestia a camisa da seleção brasileira de futebol. Empunhava a bandeira do Brasil que tremulava embolada em volta de um mastro pendido. Exercia seu direito constitucional de alertar ao povo sobre a nova farsa do vírus vermelho. A mão de ferro dera a martelada decisiva pela quarentena. Fungou, coçou o nariz, espirrou, limpou a coriza com a costa das mãos. Tinha rinite e só. Pigarreou, o tabagismo o acompanhava há quatro décadas. Cuspiu no chão. Tudo era acompanhado pelas redes sociais. Sua internação em um hospital de ponta na metrópole uma semana depois foi acompanhada de mensagens de força e de vitória cantadas antes da hora. Um dia depois, mensagens de descanso em paz de familiares e amigos. Na morte, jogado em uma vala comum com centenas de vítimas do novo vírus, poderia continuar com sua oração sem obstruir o vazio da avenida em isolamento social.
O grupo de whatsapp não dava conta das intermináveis mensagens a serem visualizadas. Amigos de profissão. Ritmo acelerado de dados trocados sobre artigos científicos e protocolos de cuidados para reduzir o risco de contágio e exposição desnecessária. Notícias em tempo real de celebridades do mundo médico que foram infectadas, entubadas e derrotadas. Desabafos e piadas sobre colegas que trabalham com cuidados não essenciais à exterminação do vírus. O ortopedista ganharia ferramentas para montar camas de campanha. O oftalmologista olharia perdido para os botões do respirador que não mediam grau algum. Denúncia à nutróloga ortomolecular que promoveu soros polivitamínicos milagrosos no story do instagram. Fúria diante dos que fugiram do alistamento ainda voluntário de combate à pandemia do século. Exposição e linchamento viralizam de maneira letal.
O médico chefe da unidade de emergência ficou doente. Foi internado em seu hospital com pneumonia pelo vírus. Último contato com ele foi há menos de sete dias. Conversaram por mais de quinze minutos sobre os pacientes com falência renal. Começou com sintomas gripais leves há dois dias. Testou positivo e foi afastada da escala por quatorze dias. Sobrecarga na cobertura. A parceira de trabalho comprou um termômetro. O mal-estar era diário, mas a temperatura nunca subia. Colegas adotam um tom falso de displicência.
-Mais provável que todos aqui já tenham se contaminado.
-Antes um contágio assintomático e logo imunidade garantida. – essa conquista silenciosa que salva a vida do hospedeiro, com descuido, se dissemina de maneira mortal e sem alarde de culpa. Tudo que sai do contaminado nesse período é material de transmissão do cuspe à bosta. Sobreviva. Mas não se espalhe, por favor.
Era da equipe de limpeza. Segunda troca de pacientes entre os turnos de terapia dialítica do dia. Partiu para terceira desinfecção com sua equipe de três. Um salão com dez divisórias, oito leitos em cada. A décima primeira era de isolamento respiratório. Oitenta máquinas. Mais oitenta poltronas. Chão, paredes e portas sem maçanetas. Sacos de lixos tóxicos. Ela considerou não trocar a luva contaminada. Só faltava mais um setor para acabar. As máscaras sobrepostas a sufocavam. De tanto respirar pela boca, as deixou umedecidas e sem utilidade. O protetor ocular apertava demais e embaçava a visão. A dor de cabeça entrou atropelando os calos das mãos e a lombar travada. Dormiria na sala de reunião dos funcionários hoje à noite. Amanhã recomeçaria às quatro da madrugada.
Uma técnica de enfermagem inicia o primeiro turno de trabalho na unidade de terapia intensiva. Isolamento respiratório. Dez leitos. Oito pacientes com infecção confirmada. Dois suspeitos. Ela lava as mãos. Coloca a máscara segurando pelas alças. Lava as mãos. Ajusta a viseira. Lava as mãos. Protege todo cabelo com uma touca descartável. Lava as mãos. Veste o avental de mangas longas. Lava as mãos. Calça as luvas. Entra no covidário. Esquece todos os passos que a levaram até ali. É despertada por alarmes sonoros e correria até o primeiro box. Uma parada cardiorrespiratória. Mais um leito e respirador disponíveis. Próximo?
Chegou no apartamento. Morava sozinho. Ignorara as últimas ligações do pai. Uma mensagem de voz dizia que em breve chegariam máscaras que ele havia encomendado à distância para o filho. Todas N95, raridade. Ele tirou o sapato, a calça e a camisa. Em um gesto automático, depois de quatro semanas, desprezou o uniforme do dia na máquina de lavar. Foi para o banho. E debaixo da torrente de água fervendo se deixou esvair em lágrimas, o corpo convulsionava. Não foi suficiente para exorcizar a nova cepa de depressão que o contaminara depois de um mês e cinco plantões semanais de vinte quatro horas cada. Ele encarou tarde o fardo que o encurvou.
– A quem dizer que não tenho mais fôlego? – seu o olhar não alcançava o céu pela janela do décimo quinto andar. Só captava a luz fria das salas geladas de triagem médica. Tirou da mochila um pacote embrulhado em plástico. Um coquetel de sono eterno. Único alívio que conseguira no hospital em que trabalhava. Deitou-se em sua cama. Fechou os olhos e se contabilizou nas mortes indiretas pelo novo vírus. Tinha as próximas doze horas de folga. Apertou o presente junto ao peito e alcançou um descanso profundo, como não acontecia há semanas.