Não foi pouco o rebuliço que causou Liberdade, do escritor estadunidense Jonathan Franzen quando o jornal The Guardian ousou chamá-lo de “o livro do século”. Não posso dizer com certeza, mas creio que esse comentário certamente toldou uma porção de opiniões de público e crítica com relação à obra, afinal faltavam 90 anos para que o século acabasse, tempo, creio eu, suficiente para que ao menos uma obra venha a rivalizar ou pôr-se de igual para igual com o tal livro.
A acolhida do livro deu-se, em grande parte, sob a égide de tal comentário. Isso contribuiu para que muitos encarassem como soberba tal assertiva e, consequentemente, a obra também. É verdade que Franzen tem feito uns comentários que vêm causando tanto rebuliço quanto aquele estampado no The Guardian, mas creio que a acolhida excessivamente mediada de Liberdade obscureceu alguns pontos muito interessantes da obra, de modo que buscarei aqui expô-los.
Primeiro, à história. Falamos de uma típica família norte-americana de classe média alta: os Berglund. O livro alterna a narração de Franzen e as anotações de Patty Berglund. Conhecemos ela e Walter desde seus tempos de colégio e universidade até a formação da família, com todos aqueles típicos elementos constituintes do assim chamado “sonho americano”: um trabalho estável, uma esposa dedicada, filhos, uma grande casa de paredes e cercas brancas e um balanço na árvore do jardim. Pois é precisamente esse pequeno simulacro de Éden que vai sendo demolido pouco a pouco ao longo de Liberdade.
A relação do Sr. e Sra. Berglund, no entanto, não ocorreu somente entre duas partes, mas sim condicionada por uma terceira, num típico triângulo potencialmente amoroso. O terceiro vértice dessa relação é Richard Katz, amigo de ambos nos tempos de universidade e antítese – pelo menos à primeira vista e aparentemente – daquele modo de vida tipicamente mediano que os Berglund cultivavam.
Falando desse jeito parece não ter nada demais, pelo menos nada de novo. É aqui que entra um dos pontos altos da prosa de Franzen – que, aliás, é viciante – : a construção desses personagens. Walter Berglund encarna o tipo intelectual, flerta com a esquerda, mas valoriza a segurança e a estabilidade material – que possui – em detrimento de aventuras (quem sabe ele seja a encarnação do quase-mítico Americano de Classe Média). Patty, que fora balançada na juventude pelo jeito meio badass, meio rebelde de Katz, vive uma vida morna e sem graça com Berglund. É a mãe de família que sente falta das aventuras do passado. E Katz, que encarna aquele espírito transgressivo que tão comumente embala os comportamentos juvenis, e que, apesar da instabilidade material, goza de um magnetismo alimentado pelo caráter romântico de sua vida e pela fama de seu rock.
Os três vivem vidas vazias, ou pelo menos essa é a impressão que a melancolia da narração de Franzen causa. Suas existências, com formas e por razões diferentes, apresentam-se insatisfatórias a cada um deles. Logo, suas aspirações de liberdade são diversas. Elas se assemelham em pelo menos um sentido: cada uma delas possui um preço a ser pago por seu usufruto.
Franzen desconstrói o “ideal americano” da estabilidade e da vida de classe média, mostrando como além de mediana ela pode ser medíocre. Ao mesmo tempo, a existência de Katz, suposta alternativa a esse modo de vida, se mostra inócua de outras formas. Dentre os três, ele parece ser o que menos se abate com as ondas de melancolia que acompanham não só os tempos atuais, mas a meia idade em que todos eles se encontram. O detalhe é que suas disposições de espírito, digamos assim, “(semi)blindam-no” a essa investida. O idealista Berglund sofre com sua incapacidade de lidar com um mundo que parece dispensar sua ajuda, e Patty com o vácuo que se tornou sua vida quando seu papel principal, o de mãe, lhe foi tirado.
A classe média americana, que já alimentou tantos dramas e histórias para a literatura, aparece novamente aqui, através da prosa de Franzen enfrentando os dramas desse tempo que alguns chamam de “pós-moderno”. Entendo quando dizem que as questões de Liberdade não têm tanto apelo universal, de fato são muito mais restritas – e sob certo ponto de vista, soam meio exageradas – do que outras vozes da literatura estadunidense, tais como John Steinbeck e Ralph Ellison. Mas ainda assim creio que se deva dar uma chance à Liberdade, para ver como o conceito tão disputado, e com uma terminologia histórica tão convulsionada e tão cambiante que lhe dá título é abordada nesses nossos tempos.
Talvez soe pretensioso atribuir ao romance de Franzen tal tarefa, porém não há dúvida que são dessas investidas que surgem, não raro por contraste, abordagens mais amplas e viscerais, daquelas que revolucionam de fato nosso entender sobre o mundo. Esse pode ser o “limite” de Franzen: sua timidez ou sua falta de visceralidade. Mas até que ponto podemos dizer que isso é uma característica estritamente particular dele e não de nossos tempos?


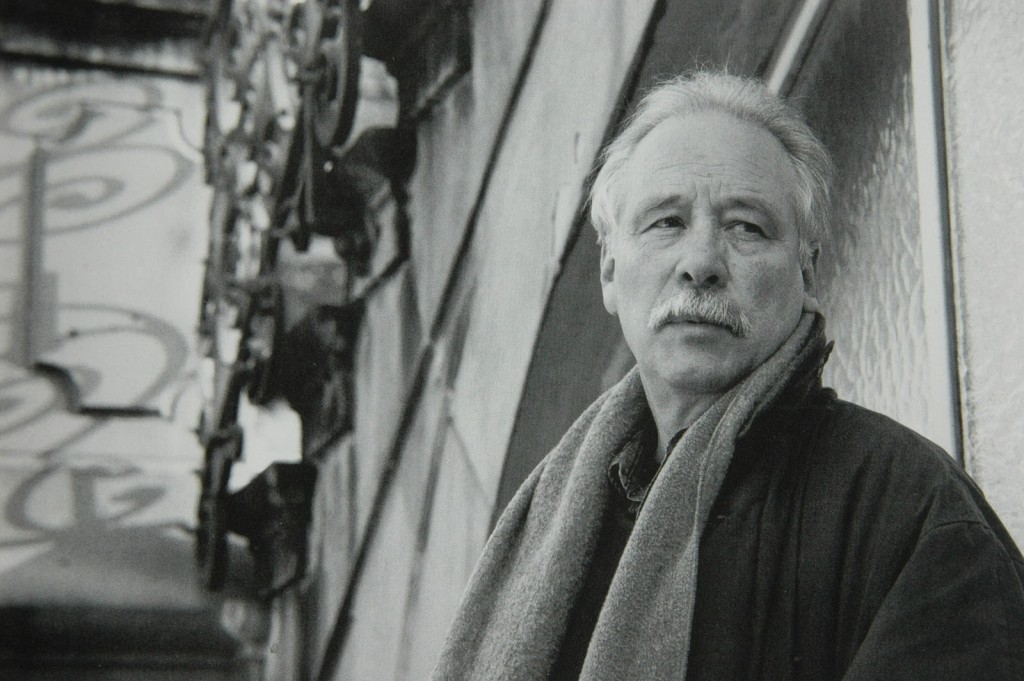


1 thought on “Liberdade (Jonathan Franzen)”