O amor é um sentimento verborrágico: amantes se desmancham em juras infinitas, elogios desmesurados e declarações repetidas. Histórias de amor são talvez as mais frequentes e mais permanentes da história da literatura. O amor se expressa em fórmulas; “eu te amo” é um arranjo que não admite variações. Seria possível, então, mapear a expressão do amor ao longo do tempo? O que isso nos diria sobre o amor em si?
Em Fragmentos de um discurso amoroso, Barthes não assume como tarefa analisar o amor, mas a forma como ele se expressa e a cristalização do discurso a respeito dele. Desde Shakespeare até Proust, o autor identifica os diversos clichês pelos quais os amantes se expressam tomando exemplos de clássicos da literatura e da filosofia.
O que esse mapeamento diz sobre o amor, o discurso ou nossa relação com a linguagem? Se existimos e, principalmente, nos relacionamos através da linguagem, o que as formas escolhidas para comunicar dizem a respeito daquilo que se sente? Barthes não se propõe a analisar o íntimo dos seres humanos, mas, ao destrinchar a forma como ele se expressa, chega a um ponto incômodo: qual a relação, como se reflete, aquilo que se sente naquilo que se diz?
Uma das primeiras conclusões a que Barthes chega é que o apaixonado não está apaixonado realmente pelo “ser amado”, mas pelo amor em si. Werther, o estereótipo do apaixonado por excelência, apenas anexa a primeira mulher que parece adequada aos sentimentos que já possuía, independentes de um objeto. Nada no discurso dos amantes adapta-se de acordo com o amado e aquilo nele que parece despertar o sentimento é sempre igual: todas as amadas são, por exemplo, adoráveis.
O diagnóstico de Barthes é incômodo por ajustar o ângulo: o foco do amor não é aquele que é amado, mas aquele que ama. O amor não é despertado por aquele que o recebe, mas nasce na fonte. O autor chama o momento em que esse sentimento prende-se ao objeto de “rapto”: algo do amante é roubado de si mesmo, ele deixa de pertencer inteiramente a si mesmo.
É uma visão egoísta do amor. É, sobretudo, uma visão cínica. Será o amor apenas uma narrativa passível de ser analisada? Ao analisarmos o discurso amoroso, o que se encontra é também uma trama de ideologias na qual aquele que fala está enredado? Qual o papel da linguagem e das infinitas narrativas amorosas na formação de nosso relacionamento com o amor?
Milhões de histórias clássicas vendem o amor desvairado, insuportável, sem o qual o amante não pode viver. Quanto do sentimento real das pessoas é condicionado pelo que, desde pequeninas, ouvem falar sobre o amor? Barthes não se faz essa pergunta explicitamente, mas ela corre nas entrelinhas de seu texto. A luz pouco favorável sob a qual ele coloca Werther (imaturo, egoísta, egocêntrico, vaidoso) resvala em todos os amantes, reais ou fictícios.
A característica mais marcante do ser amado, seja ele qual for, é ser “totalmente único e totalmente original”. Todos os seres amados são “totalmente únicos e originais” em oposição aos amantes, sempre ordinários, comuns, não merecedores do ser que amam. Assim, o amor coloca-se sempre como impossibilidade, desencontro, realizá-lo significa subverter parte da ordem do mundo.
O amor como subversivo, o amor como elemento de desconstrução de um sistema ordenado, é também uma das associações mais antigas feitas a ele. Romeu e Julieta, Anna Karênina e o Conde Vronsky, Lady Chatterley e Mellors, Werther e Charlotte, todos representam casos de amor que só seriam possíveis se alguma barreira social, econômica ou estrutural fosse cruzada. Para que o amor se realize é preciso subverter o mundo como ele é. É preciso, no mínimo, que um ser completamente único e original aceite amar alguém da esfera do ordinário.
Em seu livro, Barthes não procura amarrar essas conclusões, ele escreve, como o título indica, em fragmentos. São capítulos muito curtos em que ele analisa manifestações do discurso amoroso sem tentar desenhar um grande tratado acerca do amor e suas expressões. É nessa despretensão que reside boa parte da força do livro: Barthes não se propõe a entender o amor ou seu discurso, apenas a identificar e cria assim um contraste interessante.
A análise do autor é árida, mínima, atenta aos detalhes e aos padrões. É curioso ver uma abordagem tão fria, tão científica, de um tema tão terno. Barthes disseca o discurso amoroso e coloca cada uma de suas partes no microscópio, escapando à tendência totalizadora do assunto. Ele recusa a lógica do amor para poder encarar as pequenas falhas em seu discurso. É com uma precisão cirúrgica que ele afirma que o “eu te amo” só possui significado quando é dito pela primeira vez, após isso esvazia-se, repetição formal de um sentimento que já não está ali.
Barthes é cruel em relação ao amor e implacável ao aplicar a análise do discurso mais fria a um tema caro à maior parte dos leitores. Mas sua questão é, talvez, tão universal quanto o tema: o que é o amor? Por que seu retrato se repete de forma tão imutável ao longo de séculos? Ele não dá respostas, mas causa um incômodo profundo ao apresentar padrões pelo qual nos comportamos, ideias paradoxais e desencontradas de um sentimento presente no cotidiano e na vida.
Talvez o maior feito do livro seja justamente levantar a questão do relacionamento entre ser e linguagem de uma maneira que nenhum outro tema seria capaz. Sob nenhuma outra ótica os entrelaçamentos entre formação e linguagem estariam tão emaranhados. A linguagem nos forma? Nós formamos a linguagem? Em que metida um influencia o outro? Há uma universalidade do sentimento que causa a repetição da linguagem? Ou a cristalização da linguagem molda os sentimentos?
É um livro curto, singelo quase, aparentemente despretensioso em sua estrutura fragmentária, mas que toca suavemente em um dos temas mais poderosos da humanidade e sai rapidamente, deixando um gosto amargo e questões essenciais.

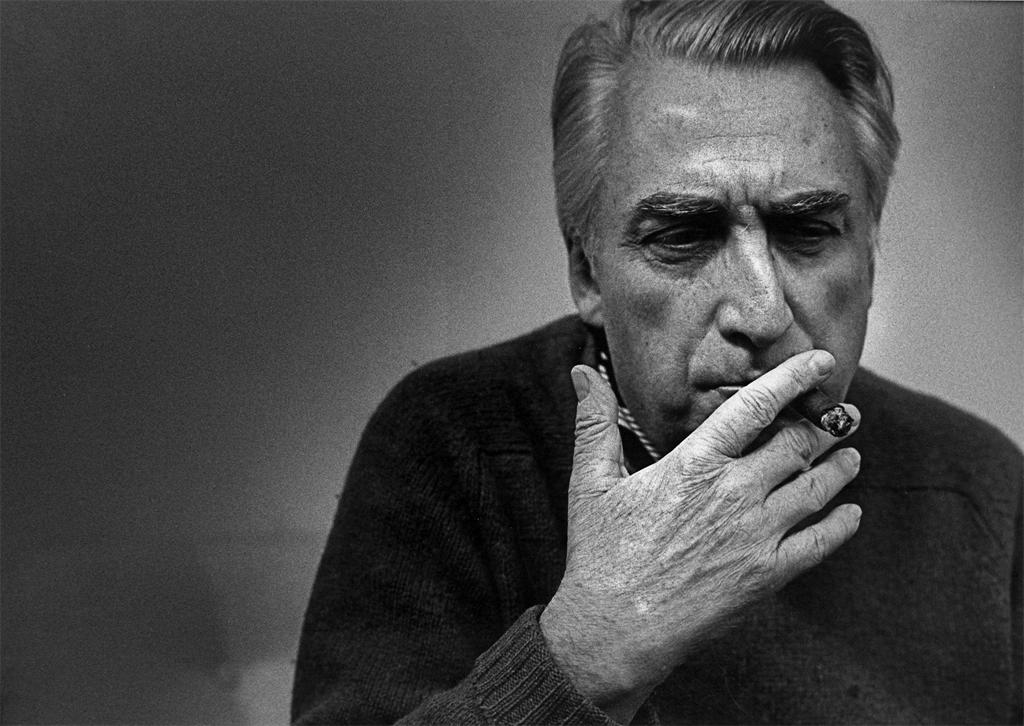



Interessante.
Eu iniciei a leitura deste livro ontem (estou neste momento passando por um pós-término de relacionamento). Não sei se é a leitura mais recomendada para esta fase, mas estou gostando bastante do livro. Gostei muito da resenha feita por você, Isadora. Ao término da leitura, volto aqui para dizer o que achei.