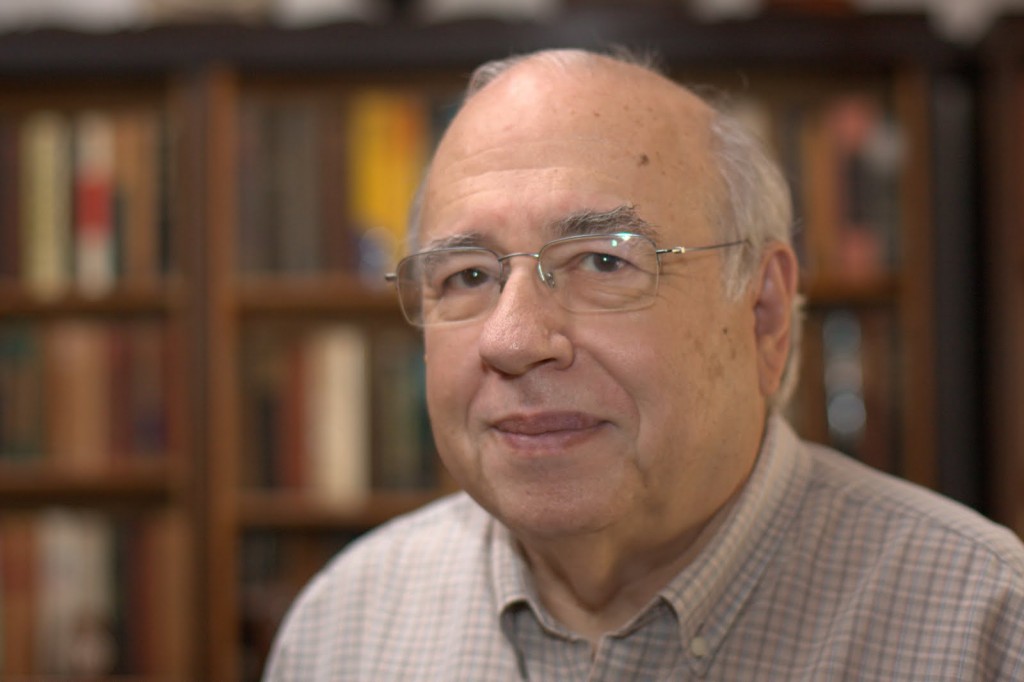Quem pôde ler a coletânea de narrativas nem muito longas, nem muito curtas, intitulada Noveleletas, publicada pela Record em 2013, deve ter ficado embasbacado ao saber que o seu respectivo autor tratava-se de um jovem de 33 anos, natural do Rio de Janeiro, mas que atualmente mora em São Paulo, onde trabalha como redator publicitário, e que de longe teve uma vida que se pode considerar tipicamente interiorana. Do contrário, João Paulo Vereza é um rapaz da cidade grande, que mostrou em sua primeira obra de ficção um estilo expressivamente marcante para fabular estórias, que lhe foram merecidas o máximo de dedicação com a linguagem, exclusivamente a qual o autor se propôs a trabalhar.
Com Noveleletas reacende-se a chama de grandes nomes da literatura brasileira regionalista, como Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Murilo Rubião, Ariano Suassuna entre outros. Abusa do risco, embora mostrando com enorme desempenho e segurança seu potencial para com o gênero pouco trabalhado em nossa prosa contemporânea, ao construir um universo temático cheio de suas peculiaridades linguísticas corroboradas à fusão do folclore, ao culto religioso, à sobreposição de elementos poéticos e à mistificação do real potencializada num traço que protagoniza a verve de um povo invisível para muitos, mas que se encontra presentemente nas veias de nossos brasis afora — no real ou no imaginário brasileiro —, através de uma cidade fictícia interiorana, elencada por suas respectivas personagens de nomes como Chorume, João Fode-Bode, Mané-Cotó, seu Zonato e Beto Esqueleto. O resultado foi o Prêmio Sesc de Literatura 2012/2013, na categoria Contos, que concedeu-lhe a publicação numa editora nacional de grande circulação no mercado, além de elogiosas críticas adquiridas por veículos da imprensa no segmento literário.
João Paulo Vereza falou com exclusividade ao Posfácio sobre como foi escrever Noveleletas, o gênero regionalista, as influências literárias, a paixão pelos livros desde a infância, a música e a publicidade como favorecimento em seu processo de criação e sobre o que almeja daqui para frente, após o prêmio, em seu trabalho como ficcionista.
1- Como surgiu o interesse em trabalhar exatamente nesse universo temático relacionado à cultura regionalista? Desde quando você passou a se interessar pela literatura do gênero?
Primeiro é o ouvido. Escrevo basicamente de ouvido. Eu tenho formação musical. Estudei música dos cinco aos dezoito anos. Meu instrumento é a bateria, que toco até hoje. Então, a primeira coisa que me atrai é o som das palavras. Palavras mais esquisitas, construções incomuns e, principalmente o ritmo. Música tem uma coisa que é muito mais o efeito do trecho que você toca do que o trecho em si. Fora que música também tem a questão da sincronia. O mais importante de tocar em grupo é ouvir o outro e estar sempre respondendo a isso. Sempre escrevo ouvindo música, com esse sentimento de estar reagindo a algo maior: à história, a uma sensação, à fala de um personagem. Eu também gosto muito de sotaques e da maneira particular que as pessoas falam. A primeira vez que vi o Auto da Compadecida, senti “é isso”. A primeira vez que li Guimarães Rosa, senti “é isso”. Mas, no fundo, isso do regionalismo é um mistério. Quando eu sento pra escrever ou sento pra tocar, o sentimento é o mesmo. É algo corporal. Minha alma se encaixa nessa levada.
Depois, é a visão, a transposição. Eu sempre busco contar a história de dentro. Tento criar um sistema onde aquele ambiente apareça o mais natural possível, porque é isso que vai ser fundamental para criar o efeito. E o efeito é transportar o leitor para aquele lugar, aquela situação, aquele tempo. Narrar como os personagens falam, descrever como os personagens sentem. Tento me colocar na história ao máximo, para relatar a história a partir dela, com referências coerentes à realidade dela, não a minha realidade. Olha só exemplo do Tolkien. Uma coisa é ele falar “era uma vez os elfos da floresta.” Outra coisa é ele sentar e escrever toda uma gramática do idioma dos caras. Aí sim que dá o estalo e os leitores pensam “eita, ferro! Esse povo é real!”. Então som e transposição para mim são fundamentais. Por isso quero ir sempre para lugares distantes, e fotografar esses lugares a partir das falas do narrador e dos personagens. Como literatura, no fundo, é som, acredito que o melhor jeito de descrever um ambiente é a partir da fala.
2- Outra coisa que me chamou a atenção, esteticamente falando, foi a maneira de como o escritor construiu o seu livro, e por isso, talvez, o título dado a ele. Porque não o vejo exatamente como um livro de contos tradicional; e há um atrevimento experimental relacionado ao tipo de estética que você estabelece em seus textos. A inserção de fontes itálicas, poemas, cantigas… Pode falar um pouco sobre isso? Era algo planejado ou você foi escrevendo meio que às cegas?
Este atrevimento passa pelo meu lado publicitário. E uma necessidade patológica de ser original e de usar os recursos gráficos do texto para passar o efeito: uma outra grande obsessão. Por exemplo, “Mané Cotó” é uma história que se passa no Brasil colonial, no início do ciclo do ouro, em algum lugar de Minas Gerais, em algum ano do século XVIII. Se eu começasse o texto falando algo como “Minas Gerais, no ano 1700 e bolinha…”, danou-se. Ia ter uma quebra no envolvimento de cara e ia gerar um distanciamento claro que era exatamente o que eu não queria. Eu queria que o leitor acompanhasse essa história ali, do lado, como uma realidade presente e não algo mastigado de um livro de história ou museu. Daí me inspirei nas canções medievais pra dar esse efeito. Confesso: o estalo para ser uma canção veio do A Song of Ice and Fire, o famoso Game of Thrones. Não que o Martin tenha escrito como canção, mas aí que me lembrei do gênero. Foi aí que eu abri o texto, aí que escrevi em forma de estrofes como uma releitura dos menestréis e da literatura provençal.
Quando trabalhamos em publicidade, temos um arsenal de ferramentas para passar o efeito e causar a sensação. Basicamente, é a direção de arte, que direciona o olhar de como você vai absorver aquela peça de comunicação. Eu trago muito isso pra minha literatura. Fora que leio muitos quadrinhos, e busco trazer coisas de lá também, como as caixas altas e as onomatopeias. Gosto muito de abrir ou fechar um texto, usando muito a tecla enter para dar o ritmo. Gosto muito de itálicos para levar o texto para outro lugar. Tudo, é claro, é em função da história, do arco, da emoção do personagem e da sensação que eu quero causar com aquilo. Toda linguagem que eu escolho é em função de algo maior, e o algo maior é sempre a história.
3- Mesmo com as influências já citadas como de Guimarães Rosa e Ariano Suassuna, você chegou a fazer pesquisas durante a feitura de Noveleletas, até para não cair num abismo de escrever um livro com uma proposta de gênero, porém de forma superficial?
Eu fiz pesquisas, mas não necessariamente de linguagem. “Mané Cotó” nasceu praticamente da leitura do livro “Boa Ventura!”, do Lucas Figueiredo, uma obra de história que conta todo o ciclo do ouro no Brasil. Foi a coisa da transposição de que falávamos. História em geral me fascina muito. Sempre que leio algo assim, desperta na hora meu carrapato ficcional para tentar me colocar nesses lugares e situações e ver o que está acontecendo por lá.
Quando escrevi o “O Trem Nascente”, eu quis tentar reproduzir o som do trem. Então fui atrás de várias músicas que tivessem esse som: tem o Trem do Raul Seixas, do Villa-Lobos, do Tom Jobim, a Rapsódia em Blue do Gershwin também reproduz o som de um trem, até Dumbo tem uma música de trem. Queria ver como outros artistas traduziam o som do trem em música e palavras. Ao longo da vida, fui descobrindo estes autores mais musicais e algo deles sempre foi ficando. Numa ordem mais ou menos cronológica de como os descobri posso falar do Ariano Suassuna, Guimarães Rosa, Marcelino Freire, Antônio Carlos Vianna, Evandro Affonso Ferreira, João Cabral de Melo Neto, Manoel de Barros, Mia Couto, entre os mais significativos. Minhas influências, porém, passam por tudo. Cinema, artes plásticas, quadrinhos, música e, principalmente, o ouvido, que está sempre buscando sotaques e falas particulares. Tudo vira insumo que eu transformo em literatura.
4- Como surgiram essas figuras que elencam seu livro, como Seu Zonato, João Fode-Bode, Beto Esqueleto e Chorume?
Primeiro tem uma técnica aí por trás. Tolkien era um mestre nisso, em criar nomes que juntavam sonoridade e significância. Guimarães Rosa também. Eu busco encontrar nomes que sejam descritivos e carismáticos, que já expliquem ou apresentem o personagem de cara, contando um pouco de suas características físicas e psicológicas. Beto Esqueleto foi assim: queria um personagem magricela. Chorume me pareceu um nome perfeito para um cachorro vira lata, amigo de um mendigo, porque já traz a sujeira e a rejeição que o personagem necessitava. Mas, ao mesmo tempo, é sempre um momento meio epifânico. Como o momento do tiro. O caçador está sempre com o rifle pronto para atirar, mas o momento de apertar o gatilho é algo complemente inconsciente. Eu carrego minha cabeça de informações e intenções e relaxo. Alguma hora o nome ou a solução vem e dá o sentimento de “é isso”. Com o Chorume, por exemplo, foi assim. Seu Zonato é um nome pura e simplesmente sonoro. Veio do vizinho de um amigo meu. Ou seja, também estou sempre com o gravador aberto para essas sonoridades interessantes. Agora, o Fode-Bode é curioso. Porque no fundo ele acabou aparecendo como um acessório. No trecho onde um personagem fala dele, ele está diluído em uma lista de nomes de outros personagens. Mas tenho sentido muita receptividade com este nome em particular. Ou seja: com certeza alguma hora vou me render a isso e investigar melhor quem é esse cara.
5- Noveleletas foi a sua primeira tentativa de escrever um livro de ficção ou, antes dele, você já havia tentado rabiscar alguma coisa?
Desde que eu me alfabetizei que eu rabisco. Escrever é uma paixão que me pegou no primeiro momento. As aulas de redação sempre foram as mais empolgantes. Tanto que eu escolhi o texto como profissão – há 14 anos sou redator publicitário. Desde praticamente a adolescência que eu buscava formatar uma obra. Sempre escrevendo contos, sempre iniciando histórias imensas que nunca terminavam. Desde a faculdade que eu guardo arquivado tudo que produzo. Minha dificuldade sempre foi compreender o que estava fazendo. Qual a cola, qual a coerência, o que davam identidade própria a todas essas pontas soltas que eu escrevia. Pra encontrar a resposta, pra definir minha voz, a vinda para São Paulo foi fundamental. Foi aqui que fiz a oficina do Marcelino Freire e pude me aprumar para valer. E o nascimento do Noveleletas foi isso. Uma angústia, uma ansiedade imensa. Porque eu não conseguia ainda ver o que meus contos tinham em comum. Foi aí que percebi que era a linguagem. A musicalidade, a originalidade, os nomes, os cenários. Foi uma dificuldade tão grande em classificar o que eu fazia que a resposta acabou vindo daí. Já que eu não sei o que eu faço, já que não encontro nada parecido, então vou assumir essa maluquice como algo novo. Aí veio o estalo e nasceram as “Noveleletas”. Histórias que são grandes demais para serem contos, mas pequenas demais para serem consideradas novelas ou romances.
6- Você falou da sua formação musical, de sua paixão pelo som das palavras, pelo ritmo e harmonia. A literatura passa a fazer sentido em sua vida quando e como? Através da música?
Eu venho de uma família de letrados. Literatura sempre foi extremamente presente. Minha mãe é professora doutora e leitora profissional. Meu pai é redator, diretor de criação e escritor, ou seja, ele sempre foi um “produtor” de texto profissional. Minha avó escrevia artigos para jornais e até lançou recentemente um livro. Soube que meu bisavó escrevia teatro de revista. Desde que eu descobri minha habilidade para escrever que nunca pensei em seguir outro caminho. Frequento livrarias desde muito pequeno com meus pais e aquele cheiro de papel sempre me fascinou. Adorava ver as estantes de livros lá de casa, formar a minha própria e também olhar estantes de livros de amigos. A música sempre foi uma paixão paralela. Nunca sequer experimentei escrever uma letra. O que acho é que as duas práticas são extremamente parecidas e se complementam. Como falei, não sinto diferença entre sentar para tocar ou sentar para escrever. Evidente que hoje a música está mais em segundo plano e tenho investido cada vez mais na literatura. A publicação do Noveleletas, ainda mais do jeito que está sendo, com a premiação do SESC, é a realização de um sonho, um sonho de olhar uma estante e ver que ali tem um livro meu. Espero que eu tenha chegado para ficar. E já estou trabalhando para transformar esse livrinho numa coleção.
7- Como descobriu o Prêmio SESC? Você já havia participado de outros? E como foi saber que o seu livro foi o vencedor na categoria contos?
Eu descobri o Prêmio SESC através de um amigo em 2009. Ele leu o primeiro rascunho do Chorume e me encorajou a mandar e eu mandei. Era um embrião do Noveleletas. Chamava-se “A Maçã do Chorume e outros contos” e tinham alguns contos que viriam a compor o Noveleletas e outros menos bem acabados. Fui finalista. Ano passado, quando eu tracei a reta de terminar o livro, o prazo final que me dei foi justamente a data de inscrição do Prêmio SESC. Porque, com o livro pronto, eu precisava me livrar daquilo. Precisava jogar aquilo paro mundo de alguma maneira, e a maneira mais à mão que apareceu foram os concursos. Mandei pro SESC, para o Prêmio Paraná, o Prêmio Minas Gerais e o Benvirá. Mas mandei sem pretensão nenhuma. Mandei como desencargo, como desapego. A sensação foi de jogar uma garrafa no oceano. Nunca imaginei que fosse ser resgatado. Daí então a minha surpresa quando recebi a ligação em março, dizendo que eu havia ganhado. Não foi que alguém nesse oceano sem fim pegou a tal garrafa?
8- Pode falar mais sobre essa coleção que o escritor almeja? Então é isso, o escritor deseja abraçar a literatura do gênero? Ou você prefere ser chamado mais de escritor de linguagem?
Falei da coleção como uma brincadeira (risos). O que quero é produzir e publicar mais. Já tenho uma ideia mais ou menos formatada para um novo livro. Mas ainda tem muita estrada pela frente. Se vai ser regional ou de linguagem, não sei. Sei que continuo firme nessa investigação de sons e transposição, querendo ir cada vez mais longe.
9- O que você tem achado da receptividade dos leitores e da crítica relacionada ao seu livro?
Maravilhosa. Eu escrevo para mim. É uma onda absolutamente minha. É colocar meu fone, abrir o Word e me deixar levar. São as soluções das histórias que aparecem no trânsito, num elevador, numa reunião mais chata e demorada. É aquele instantezinho de felicidade quando as coisas se encaixam e eu vejo que a história está indo pra frente e eu vou conseguir o que me é o mais prazeroso: terminar uma história e aquilo fazer um sentido. Por isso, ser lido pra mim é um bônus absurdo. Ter ganhado o concurso e estar sendo publicado da forma como estou foi o melhor acidente da minha vida. Sim: porque acredito que quase ninguém que mande obras para um concurso realmente espera que vá ser o vencedor. E eu só fico surpreso e agradecido a todos os leitores. E sim: a recepção tem sido muito boa. Pra começar, o livro nasceu com o toque de 3 Reis Magos: orelhas do Pellanda e do Castello (estes dois os jurados finais do Prêmio) e apresentação do Evandro Affonso Ferreira. Tive boas críticas na Folha e no Rascunho. Vários amigos vêm me dar os parabéns, falando de partes que curtiram mais. Sem falar em todo o apoio do SESC. No início de novembro, fui à Bienal de Maceió a convite do SESC e aproveitei pra uma heresia: na terra de Graciliano e de Baleia, eu li um trecho do meu vira-lata Chorume. E toda essa recepção só me encoraja a escrever cada vez mais e mais.
10- Posso estar enganado, mas você é um dos poucos escritores jovens, pelo menos publicados por uma grande editora, que vem acendendo novamente a chama de uma literatura que estava sendo pouco a pouco diluída no Brasil. O que você acha que essa literatura, que se presta a trabalhar a linguagem do povo interiorano corroborado a esse multiculturalismo brasileiro enraizado, precisa para ganhar novamente sua ascensão?
Não faço a mínima ideia (risos). Se é para levantar uma bandeira, eu levanto a bandeira da liberdade e da autenticidade. Um espírito punk, mas dentro de uma estética um pouco menos suja. Estive na Balada Literária e o que eu acredito é o que eu vi: escritores que batalham por uma literatura íntegra, sem amarras, sem medos, fora da discussão mercadológica e dos modismos. São caras que escrevem o que sentem e se mantém firmes nessas propostas. Eu trago esse regionalismo, entre aspas e muito entre aspas, porque é verdadeiro para mim. E o que eu aprecio são escritores fieis a essa verdade profundamente interna.
11- Um momento emblemático seu ligado a um livro?
Quando tinha 16 anos, fiz intercâmbio nos Estados Unidos. Um ano fora de casa, eu ainda muito jovem, uma aventura bem intensa. Fiquei numa casa de família típica. Cheguei num sábado de manhã achando tudo, obviamente, muito estranho. Na época, estava sendo publicada no Brasil uma série do Stephen King chamada O Corredor da Morte (The Green Mile), uma ideia editorial que ele teve de publicar em fascículos, como os folhetins do século XIX. Aqui no Brasil tinham sido lançados apenas os dois primeiros volumes, de uma série de seis. Logo no domingo nos Estados Unidos, eu me sentindo ainda muito acuado, fomos a um mercado que, ao lado, tinha uma livraria. Fui direto na livraria e encontrei a série completa – lá já tinham sido lançados todos os volumes. Comprei os volumes restantes na hora e li tudo sem parar nas semanas seguintes. Isso foi fundamental para me relaxar e dar força pra enfrentar esse ano longe de casa. Ou melhor: o que descobri e aprendi naquele momento foi que, enquanto eu tiver um livro por perto, eu vou sempre me sentir em casa.
12- Você acha que uma parte da literatura brasileira anda encapsulada e restrita a um modelo de mercado?
Eu vejo hoje a produção literária brasileira dividida em dois extremos. De um lado tem escritores mais dedicados a uma (entre aspas – e bota aspas nisso) alta literatura, que busca uma excelência e uma identidade mais formal, quase acadêmica, que acabou ficando muito hermética e consumida somente por leitores mais, digamos, profissionais – entre eles outros escritores. O sucesso de crítica e fracasso de vendas. Do outro lado vejo os escritores mais pop, os que vendem pra valer, aí sim, seguindo uma pauta de mercado focada em fantasia, livros infanto-juvenis e outros temas (entre aspas – e bota aspas nisso) menores. O fracasso de crítica e o sucesso de vendas. Ou seja: literatura no Brasil ou é um negócio que é muito respeitado ou não é respeitado em nada. Mas o maior desafio do país é formar leitores. Leitores casuais, que não vejam literatura como algo pesado ou extra importante, mas que também mereçam ler uma ficção despretensiosa, mas com mais qualidade. Antes de pensar no mercado ou na produção ou nas tendências, temos que pensar em como formar leitores. Em como mostrar para essa massa enorme de leitores em potencial como a literatura é libertadora e esclarecedora e estimulante e desafiadora, mas, antes de tudo, ler é leve e divertido e simplesmente legal.