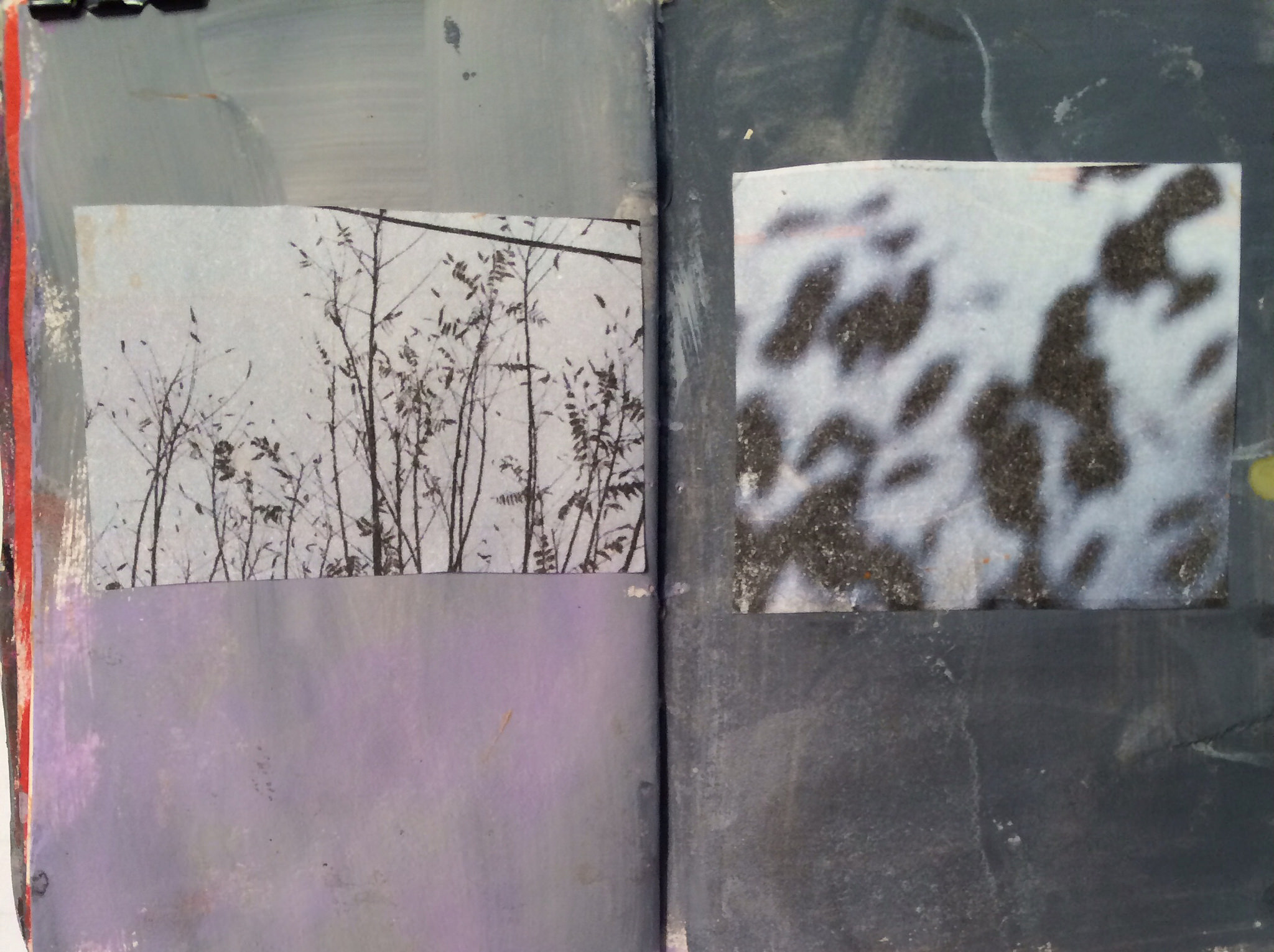Eu passei os últimos dois anos escrevendo um mestrado sobre Ingmar Bergman (e suspeito ser essa a única razão para o editor deixar eu escrever no Posfácio)1, vendo todos os filmes, lendo tudo que havia para ser lido, voltando em A Lanterna Mágica tantas vezes que posso citar parágrafos inteiros de cabeça. Passei dois anos desesperadamente tentando entender o cérebro e a alma de um homem que nunca encontraria, tentando sobretudo conhecer a pessoa que me falava por trás daquelas imagens em preto e branco.
Bergman foi uma escolha de puro amor e o trabalho de entender seus filmes passou em grande parte pelo de entender a pessoa. Entre autobiografias, relatos de ex-mulheres e documentários, fui tentando achar um homem, montar um retrato, ficar íntima de um velho sueco deprimido isolado em uma ilha. O trabalho me trouxe um ser atormentado, violento, corporal a ponto de sentir no estômago qualquer decepção, sensível ao menor estremecimento de ar e surpreendentemente doce. É importante não esquecer que Bergman é alguém capaz de Fanny e Alexander.
Ao logo desses dois anos, ouvi diversas vezes o quanto eu era tão claramente apaixonada pelo meu tema. O quanto eu estava tomada e envolvida por todo aquele universo. Nunca escondi a obsessão, nunca neguei que Max Von Sydow se tornou um dos meus rostos mais queridos, recortado contra uma praia rochosa, jogando xadrez com a morte. Mas o mestrado acabou e eu precisava saber o que fazer com a paixão. Eu precisava me despedir, cantar vitória e fazer uma dancinha em cima do túmulo do homem que quase me deixou louca. E precisava decidir se seguíamos juntos. E então eu fui a Fårö.
Não foi exatamente um lugar fácil de chegar, de Estocolmo me custou duas balsas, dois ônibus (o segundo ônibus entra dentro da segunda balsa) e para grande surpresa de todos precisei me perder. Não sei por que em algum momento eu achei que seria capaz de encontrar uma pousada minúscula no meio de uma ilha sem me perder. Um mês e meio depois de Malta e ainda não aprendi a não sair por aí em ilhas sem ter noção do que estou fazendo.
Mas se perder em Färö tem certo caráter poético. Estava andando de ônibus, sem noção nenhuma de para aonde estava indo, por paisagens em que Bergman costumava caminhar, pela ilha que ele escolheu como paisagem de seus filmes e, portanto, de sua alma. É engraçado, porque vista em preto e branco, pela lente dura de Sven Nykvist, a ilha parece árida, pouco convidativa, inóspita mesmo. Chegando lá o que encontrei foram campings e casas de verão, bistrôs e meninas suecas bronzeadas, o sol batendo no cabelo delas como em um filme da Sofia Coppola. Quando o sol se põe, quase onze da noite, o céu ganha faixas bem definidas de tons pastéis, a brisa gelada tem cheiro de mar e talvez seja um dos lugares mais agradáveis em que já estive.
No dia seguinte, depois de ter pego todas aquelas balsas e ônibus e dado voltas, saí para o Bergmancenter. Porque estou sempre um pouco errada no processo de deslocamento, perdi o ônibus que passaria na frente por uns poucos minutos e decidi andar. Considerei pedir carona (o que pode acontecer em uma ilha sueca no meio do nada?), mas havia campos dourados na lateral da estrada, e aos oitenta anos Bergman ainda caminhava dois quilômetros todo dia para pegar seu jornal, então eu também podia. Coloquei fones de ouvido tocando Bob Dylan e fui andando.
Me lembro bem do dia em que vi a Liv Ullman ao vivo, dando palestra e assinando livros na minha faculdade. Não sei se já vi uma pessoa tão viva, com um sorriso tão fácil e um abraço quase constrangedor, para você que por tanto tempo a viu nos filmes. Logo na entrada da casa em que um dia ela viveu com Bergman, há uma foto em que ela abraça a mulher que foi a empregada deles por anos. Comecei a chorar ali. O Bergman que conheci era um homem muito difícil, cercado de mulheres para quem a vida parecia mais simples, mais leve.
Antes de seguir para o resto, entro no café (chamado, como a tradução literal do filme, “o canteiro de morangos silvestres”, palavra que em sueco também significa um lugar especial), peço um biscoito e uma limonada e tomo meu tempo. Enrolo um pouco, como quem guarda um doce para mais tarde, mas também tentando pesar tudo que fui fazer ali.
Continuei. As paredes são recobertas de artigos e notícias sobre o relacionamento entre Bergman e a ilha de Fårö: a forma como ele a escolheu para cenário de Através de Um Espelho, o garoto que se tornou assistente de Sven Nykvst e depois fotógrafo, o centro cultural de que Bergman cobriu os custos. Para os habitantes da pequena ilha ele não era o gênio, o grande cineasta, o melhor diretor do mundo, mas o homem um tanto recluso, porém sempre gentil, que fazia filmes.
As imagens de bastidores dos filmes de Bergman são sempre adoráveis. Os stills de O Sétimo Selo mostram Bibi Andersson fazendo gracinha, Gunnar Bjonstrand acendendo o cigarro de Bergman, Max Von Sydow correndo atrás de um cachorro. Ao trabalhar sempre com a mesma equipe, Bergman criou uma harmonia e uma teia de relações que se torna visível na tela. Bibi Andersson de vestido preto e óculos escuros posa para um take de Persona, enquanto fora de cena Liv Ullman se debruça sobre uma pedra, seus enormes olhos azuis fixos na amiga.
Em uma instalação chamada “Lanterna Mágica”, quatro telas exibem trechos dos filmes de Bergman, agrupados por motivos formais: títulos, portas se abrindo, pessoas andando a esmo por uma casa. É uma amostra ótima de um diretor obsessivo, repetitivo, cuja obra é de fato composta da mesma história contada infinitas vezes.
Mas é a última sala que me toca: a sala de estar dos Ekdhal, com todos os seus tapetes vermelhos, cortinas pesadas e mobiliário do início do século XX, foi recriada ali. Até mesmo a estátua que Alexander vê mexer os olhos está lá. E a lanterna mágica que o irmão de Ingmar ganhou em um Natal e ele adquiriu pelo preço de vinte soldadinhos de chumbo. A lanterna mágica que seria sua obsessão, o nome de sua autobiografia, seu primeiro objeto de fazer cinema.
Em uma cômoda, ao abrir as gavetas, encontro cartas, notas, o roteiro de filmagens de Fanny e Alexander. Projetado na parede, Alexander levanta repetidamente a cortina de seu teatro de marionetes, no qual está escrito “não apenas para o prazer”. O teatro como metáfora da vida é o tema mais recorrente de Ingmar Bergman, e Alexander Ekdhal é seu maior alter ego: como Bergman, e como nós, Alexander segue dividido entre perdão e rancor, entre sucumbir à miséria do mundo e acreditar que ele pode ser bom. Há muita coisa dita na decisão do cineasta de terminar sua filmografia com o otimismo de Fanny e Alexander, e acho uma escolha genial que o centro escolha remontar esse filme. É o cerne de todo cinema de Bergman, a chave, de certa forma, para entendê-lo.
Depois dali, ando mais um pouco até a igreja de Fårö, cercada por um cemitério. Ingmar Bergman está enterrado junto com sua última mulher em um canto destacado, com um túmulo simples, uma pedra com seu nome gravado. Quando o encontro, faço a prometida dancinha em cima (“Eu consegui! Eu consegui!”) e me sento para conversar. Não fiquei louca e ainda tenho plena noção do quão ridículo é falar com um túmulo, mas não pude evitar. Precisei agradecer pelos filmes, pela arte, pela possibilidade de falar a minha alma de uma forma que nenhum outro artista pode. Por tudo que eu achei no processo de me tornar especialista por alguém que ainda amo, mesmo depois de destrinchar, dissecar e analisar com o maior rigor científico possível para um trabalho desses.
Então fico quieta mais alguns minutos e antes de ir procuro uma pedra para procurar na lápide. Imagino que Bergman se irritaria com esse gesto ridiculamente religioso, incontrolavelmente automático, mas faço mesmo assim. Coloco uma pedrinha na lápide dele, reflito mais uma vez que ali, naquele lugar, embaixo de mim, está o corpo de Ingmar Bergman e me preparo para pegar dois ônibus, duas balsas e tentar não me perder de novo.
- Amanhã é aniversário de morte do Bergman, que faleceu em 2007. ↩