Em sua famosa aula inaugural do Collège de France, em 1977, Roland Barthes lançou uma noção que, dentre tantas outras suas, acabou sendo polêmica na medida certa. É claro que se você foi chamado para integrar o corpo docente de uma instituição que reúne alguns dos maiores pesquisadores franceses, você terá a irresistível vontade de chamar a atenção logo de início. Barthes guardou uma carta na mão até esse momento, quando diz que “a língua, como desempenho de toda linguagem, não é nem reacionária, nem progressista; ela é simplesmente: fascista; pois o fascismo não é impedir de dizer, é obrigar a dizer”
Essa ideia de fascismo intrínseco à língua assusta, é claro. Ainda mais se o transpusermos para a literatura, sempre referida como um meio de expressão livre, em que se pode transgredir tudo e todos a qualquer hora. O fato é que não existe literatura fora da linguagem, pois aquela se define justamente por esta. Mas será que os escritores realmente se importam com a limitação da língua existente? Será que sua angústia ao tentar colocar no papel seus sentimentos deriva do fascismo da língua? Ou será que, afinal de contas, todos querem só se adequar àquela língua?
Como sabemos, escritores sempre acabam por escrever e, na maior parte dos casos, acabamos por entendê-los. Nossa sociedade dita qual será esse meio de comunicação e como ele é constituído, então não há qualquer imposição aqui da parte do leitor ou do autor; ambos são servos e senhores da língua ao mesmo tempo. Conseguimos compreender como essa língua é construída: há linguistas por todos os cantos dispostos a falar de suas teorias e os próprios falantes são sempre linguistas em potencial. Ainda assim, ninguém é neutro nesse processo, já que todos estão submetidos (e submetem outros) à ditadura da língua. Nesse contexto fica difícil imaginar como seria esse mundo exterior a isso, essa realidade fora da representação cotidiana da nossa realidade.
Se pensarmos em “revolucionários da literatura”, James Joyce imediatamente poderá ser um exemplo de inovador que, dentro dos limites da língua, conseguiu construir um novo meio de representação da realidade. A modernidade permitiu que os escritores buscassem novos recursos de expressão literária, sendo o Modernismo o auge dessa obsessão pela liberdade da escritura. O próprio Barthes trabalha com a ideia de que a “língua fora do poder” é a literatura, portanto parece que a literatura sempre aparece como a fuga dessa prisão que é a língua. Acredito que Alain Robbe-Grillet, romancista francês, estava certo ao apontar o problema de que, no fundo, todo escritor quer ser realista. Como ser realista em uma língua fora do poder, fora dessa compreensão em comum que o fascismo nos proporciona?
Barthes me diria que a linguagem por si só parece nos fornecer meios de superar esse poder da língua. Ainda assim, não consigo deixar de lado a noção de que um livro não pode ser um mundo por si só assim tão facilmente (indo contra outra ideia barthesiana), que ele reflete sim os dilemas de uma sociedade e que para se comunicar com seus integrantes, os leitores, há a necessidade de um código. Mesmo Joyce se utilizava da língua inglesa para construir suas obras. É claro que buscava subvertê-la para seus fins literários, mas será que isso o levou para fora do domínio da língua? Alguém seria revolucionário por ser contratado para trabalhar em um banco e começar a dar dinheiro para todos os clientes? O fato é que todos os elementos continuam a ser identificados por sua origem: o banco é banco, o dinheiro é dinheiro, o cliente é cliente. A subversão da língua só existe porque existe uma língua, não porque se construiu um mundo fora dela.
O Ulysses, por mais estranho que pareça, ainda está em inglês, algo incontestável, acredito eu. Joyce só se faria compreender se escrevesse em uma língua que todos entendessem, ainda que fizesse isso para logo depois buscar mudá-la. Ainda que ela se altere para seus propósitos, isso acontecerá dentro dos limites de entendimento dos outros senhores da língua. No entanto, é claro que ele não criou um mundo que se fecha em si: o leitor do Ulysses sabe que há segredos naquele mundo que ninguém parece saber, inclusive as personagens (quem sabe nem o próprio Joyce). Nessas lacunas talvez esteja a saída libertária de Joyce, pois há elementos que nenhum realismo consegue abarcar.
A partir da metade do século XX, não faltaram escritores que levaram essa descoberta joyceana ao extremo: Robbe-Grillet, citado acima, elaborou romances (O ciúme, por exemplo) em que a objetividade máxima nos leva à subjetividade máxima. Ninguém lê seus romances e consegue chegar a um acordo sobre o que acontece ali, porque cada um foi levado por sua própria interpretação. Portanto, talvez o romance mais libertário possível seja aquele que ninguém entende. Quem sabe ele até já exista: Finnegans Wake, também de Joyce, permanece até hoje como um ponto de interrogação na cabeça de todos. Podemos até pensar que uma obra fora da língua fascista seria aquele que somente o próprio escritor compreende, sendo individualista ao extremo. Seria, então, factível uma obra literária que levasse a liberdade a todos?
É claro que não faltam pesquisadores, escritores e leitores dispostos a dar suas opiniões sobre o assunto desta coluna. Não quis impor nenhuma conclusão a respeito das minhas dúvidas, apenas mostrar que não é tão fácil como parece ser “transgressor” em literatura. A resposta para esse problema não é simples. Não consigo acreditar também em soluções como “o conteúdo pode ser revolucionário”, já que sempre podemos nos lembrar daquela famosa citação de Maiakóvski (“Sem forma revolucionária não há arte revolucionária”). Romances ditos “revolucionários” que seguem uma forma burguesa existem aos montes por aí. Também não se trata de construir uma nova língua para que se torne também fascista assim que todas consigam entrar em seu domínio. Prisões realistas existem em todo o livro, não importando de qual gênero ele seja. Será que só elas podem se tornar literatura de verdade?
BARTHES, R. Aula. 6. ed. Trad. de Leyla Perrone-Moysés. São Paulo: Cultrix, 1992, p. 13.

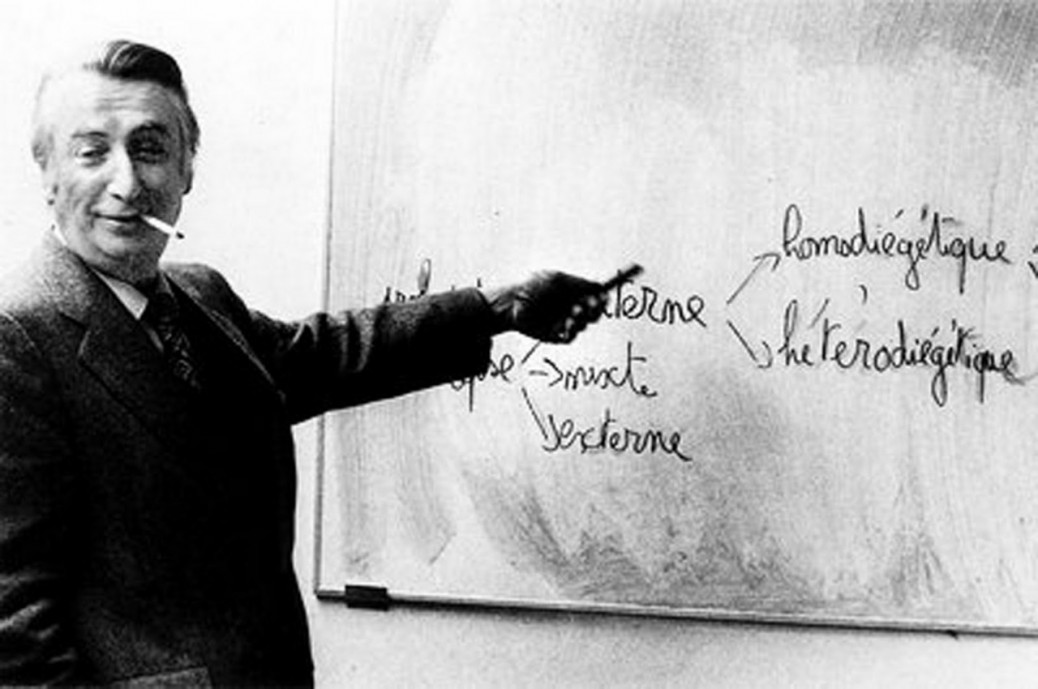



é refrescante encontrar escritores que se interessam pelo trabalho de Roland Barthes.
aproveito para adicionar uma curiosidade externa da esfera literária: o cineasta Alain Resnais filmou uma espécie de adaptação do livro ”O Ciúme”,- em colaboração com o próprio escritor. O título da película é O Ano Passado em Marienband e creio que o resultado (ou vá lá, a mensagem) se assemelha aos temas abordados dentro deste post (forma, conteúdo, fascismo, revolução).
de qualquer maneira, ótimo texto, Daniel.
um abraço, rubens.
Rubens, obrigado! Barthes sempre está na minha cabeça mesmo (até demais).
Só gostaria de corrigir uma informação tua: “O ano passado em Marienbad” é, na verdade, um filme cujo roteiro é do Robbe-Grillet, não exatamente uma adaptação de seu romance “O ciúme”. O assunto dos dois é semelhante mesmo, de fato, mas um não é adaptação do outro.
Abraço,
Daniel
Besteira… Barthes nunca é demais.
E, Daniel, obrigado pela correção 😉
abraço.
Olá ,
Pesquisando para um trabalho sobre o poder da língua encontrei seu texto, me ajudou bastante, esclarecedor.
Abrç