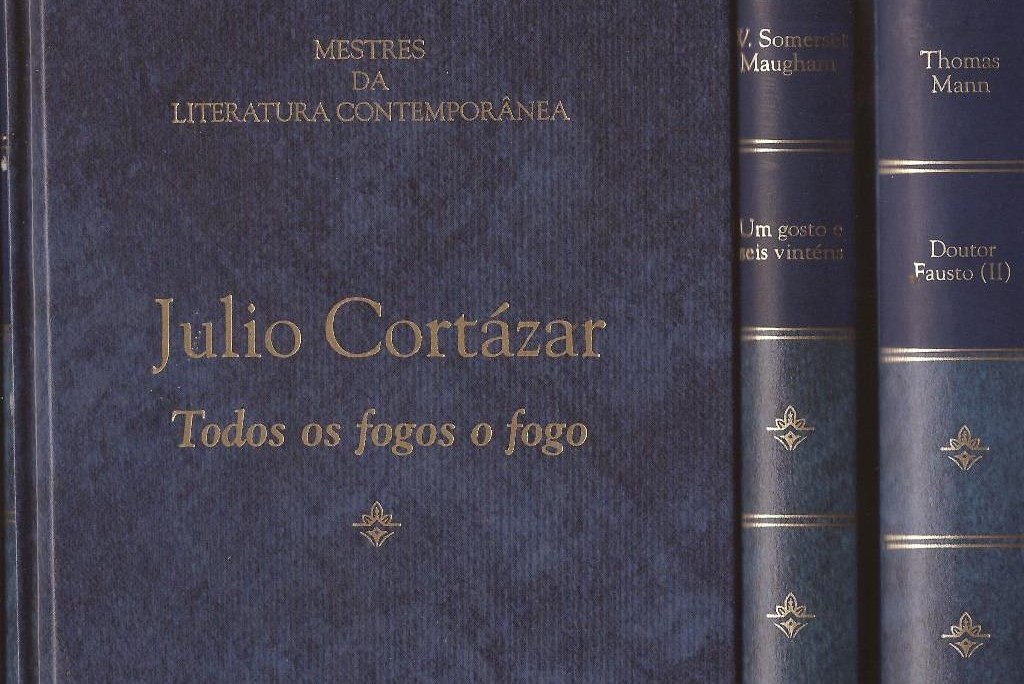Estou escrevendo. O que supostamente é melhor do que não estar escrevendo, embora não haja provas concretas de que o ato de escrita seja saudável do ponto de vista da saúde mental, física (coluna, pulsos), social (você deixa de encontrar amigos para ficar a sós com uma tela de Word, e não tem mais nem aquele clips de papel amigo para fazer companhia) e financeira (nenhum cálculo justifica o tempo gasto na escrita de um romance versus direitos autorais recebidos pela venda de, com sorte, dois mil exemplares).
A vida toda nutri certa inveja dos escritores que apenas sentam e saem escrevendo, como João Gilberto Noll, que disse, em entrevista ao Posfácio, que é “muito compulsivo pra escrever (…). Não tem roteiros pré-estabelecidos. Tem aquele personagem central, mas o que eu vou fazer com ele aquele dia eu não tenho muita ideia, não. A coisa, o enredo, vai acontecer no ato da escrita.” É uma escrita não planejada de antemão, sem a estrutura esquadrinhada em cadernos, sem divisão clara de capítulos, sem a separação de arcos de personagem, sem o peso do fantasma da teoria. A escrita de Noll evoca, acima de tudo, uma liberdade inalcançável para autores como eu (e vários outros, mas não ouso falar em nome de amigas e amigos). Mas há ainda mais uma questão: ele escreve sem a necessidade da pesquisa.
Meu primeiro romance, Areia nos dentes, um faroeste com zumbis amalucado e destrambelhado, surgiu quase como reação a uma literatura contemporânea que predominava no Brasil no fim dos anos 1990 e começo dos anos 2000, extremamente urbana, que narrava a vida cotidiana de jovens da mesma idade do autor. Eu queria romper esse cenário repetitivo criando uma história da virada para o século XX na fronteira do México com os EUA. Por mais artificial que fosse meu western, por mais que quisesse que os diálogos soassem como a dublagem de um faroeste italiano assistido de madrugada na Band, ainda assim o enredo envolvia cavalos, forno a lenha, revólveres, e assim por diante. E se passava em dois países onde eu nunca tinha estado. Isso tudo, é claro, envolve pesquisa, que, na época, resumiu-se ao amigo Google.
Foi só no meu segundo romance, F, que tornei a pesquisa uma parte integral do meu processo criativo. Com uma história que gira em torno de uma tentativa de assassinar Orson Welles em 1985, não apenas precisei ler uma infinidade de biografias acerca do cineasta, como tive que compreender a geografia de Los Angeles (onde nunca pisei) e descobrir a partir de que momento o CD foi substituindo o vinil e a fita cassete.
Pesquisei tanto para o maldito romance que sei até hoje o nome do poodle de Welles (Kiki) e a cor do tapete de sua sala de estar (verde). Foi aí também que provei o veneno da pesquisa: você tem tanto trabalho que quer mostrar serviço. Aí muitas vezes minhas personagens despejam diálogos expositivos, verdadeiros info dumps sobre os mais diversos assuntos. Usei algumas estratégias para disfarçar, e aproveito para compartilhá-las com novos escritores: 1) a alternância entre diálogo, narração e descrição; 2) colocar uma personagem mais ignorante que a outra em uma cena, obrigando a que sabe mais a explicar tal coisa. Apesar disso, se for reler o livro hoje, certamente sentirei um desejo de cortar algumas linhas excessivamente didáticas. Meu consolo é que não sou o único que mergulhou fundo demais nesse oceano e depois não soube voltar à superfície: basta pensar em Do inferno, o romance gráfico de Alan Moore, com personagens que declamam aulas de maçonaria.
Há também a questão do tempo gasto na empreitada. É famosa a história da composição de Bouvard et Pécuchet, romance de Flaubert que antecipou muitos temas do pós-modernismo. No livro, dois tontos decidem aprender tudo sobre determinado assunto, de agricultura a teologia, de arqueologia a botânica, e Flaubert era obrigado a pesquisar uns trinta livros para redigir cada capítulo. A busca enciclopédica dos personagens acaba mimetizando o próprio esforço do escritor na pesquisa. O livro ficou inacabado e é, de certo modo, um testemunho de como a pesquisa nunca tem fim, pois é impossível alcançar uma visão total de qualquer assunto.
Então, na minha terceira narrativa longa, prometi que não faria algo tão trabalhoso. Adotei uma abordagem mais pessoal: um enredo que se passasse nos dias de hoje (que triunfo de simplicidade!), na cidade onde moro (nada de lugares onde nunca pisei!), com uma protagonista da minha idade e algumas características em comum (emprego CLT não relacionado à área acadêmica). Simples, não? Nunca é simples. Quando vi, acabei precisando fazer toda uma gigantesca pesquisa sobre ocultismo. Até hoje tenho uma prateleira só de livros que li nesse período, de gnosticismo ao diário mágico de Aleister Crowley. No cemitério de personagens imaginários, Bouvard e Pécuchet deviam estar gargalhando.
No entanto, ao contrário de F, dessa vez decidi limar boa parte da pesquisa do resultado final que chegaria às mãos do leitor. Na primeira versão do livro, a protagonista adorava exibir seu conhecimento. Ao longo dos penosos 11 meses de edição, fui cortando e cortando esses diálogos expositivos. Algumas críticas, pelo jeito, acham que cortei demais, pois reclamaram que a protagonista era uma especialista que não sabe de nada. Como sempre, o ideal é encontrar um meio-termo, mas, caramba, como é difícil…
Volto ao começo desse texto: estou escrevendo. É meu quarto romance. Está com 82 páginas A4 até agora. Estou escrevendo há três anos. Comecei em 2017, quando fui convidado para uma residência num idílico vilarejo suíço, onde fiquei um mês. A história se passava na São Paulo dos anos 1930 e envolvia um irmão e uma irmã que se descobrem imortais. Não funcionou. Voltei para São Paulo e li, espantado, aquelas páginas horrorosas. Reescrevi do zero situando a trama na Suíça e narrando em primeira pessoa. Não funcionou também. Apaguei tudo e reescrevi do zero, mais uma vez.
Estou na terceira tentativa, abandonando todo o caráter fantástico da trama. Aos 35 anos, às vésperas de ser pai, sinto que encerrei um ciclo de minha vida, um ciclo de livros que buscavam homenagear e subverter gêneros populares. Minha vida mudou, meus interesses mudaram, minhas leituras mudaram, que diabos, eu sou outra pessoa e tenho dificuldades imensas de reconhecer quem era o Antônio de 2007, ano em que escrevi Areia nos dentes. Então, chega de personagem imortal. A trama agora se passa na Suíça do pós-guerra e versa sobre doenças mentais, o surgimento do primeiro antipsicótico, a fundação do CERN e a descoberta de partículas elementares, a experiência de vida após o fascismo, e europeus ponderados tendo que conviver com pessoas que até poucos anos antes eram simpatizantes nazistas. Não preciso nem dizer que está sendo necessário pesquisar. Dessa vez, no entanto, estou tentando não enlouquecer com isso. Estou focado nas personagens, no enredo, na linguagem, no que essa história tem de pessoal. Todos meus livros são pessoais, mesmo quando falam de zumbis no Velho Oeste, pois pessoal não é a mesma coisa que autobiográfico.
E estou pesquisando, é claro, até porque – faltou dizer – a pesquisa é prazerosa. Busco, mais uma vez, o meio-termo. Às vezes, a pesquisa abre novos caminhos para o romance (descobri por acaso que C. G. Jung era antissemita), mas, quando consumida em excesso, leva à artificialidade da exposição e do didatismo. É o pharmakon que um dia preciso aprender a dosar. Quem sabe agora vai?
Antônio Xerxenesky é escritor, tradutor e doutor em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo (USP).