É bem provável que a primeira pergunta da maioria ao saber que em 2012 seria lançada uma nova tradução do Ulysses (1922), de James Joyce (1882-1941), foi: por que traduzir esse catatau mais uma vez? A obra-prima do autor irlandês já foi lançada no Brasil antes, sendo a primeira tradução de 1966, do filólogo Antônio Houaiss, e a segunda de 2005, da professora Bernardina Pinheiro. O lapso temporal, como se percebe, é grande entre as duas edições, o que torna ainda mais surpreendente o fato de, apenas sete anos depois da segunda tradução ser lançada, Caetano W. Galindo lançar uma nova tradução do romance pela Companhia das Letras, no selo Penguin-Companhia.
Antes de qualquer coisa, devo dizer que, por uma série de motivos pessoais, acompanhei nos últimos anos com expectativa o lançamento da tradução de Galindo, até porque ele foi meu professor de várias disciplinas ao longo da graduação. Por isso já adianto que talvez este post tenha sido escrito com certa influência desse fato. Apesar disso, é necessário reafirmar a validade de se lançar essa nova tradução por muitas razões, mas, em minha opinião, uma é essencial: nunca há traduções demais.
A tradução de Houaiss trouxe um Ulysses para o público brasileiro, a de Pinheiro outro e, agora, a de Caetano um terceiro também diferente. Quem se dedicar a ler mesmo que superficialmente cada uma das edições observará que temos em mãos três versões bem distintas da mesma obra, uma obra muito complexa e de relevância extrema na literatura moderna. Não há muitos consensos críticos em relação ao universo joyciano, especialmente de textos como o Ulysses, portanto nada mais natural do que termos três traduções tão especiais vindas de três interpretações tão variadas. Temos só a agradecer pela chance de poder lê-las e buscar compreender com mais liberdade o universo que esse livro nos oferece. Não há uma interpretação certa do Ulysses, assim como não há uma tradução certa.
Afinal qual o diferencial que a tradução de Galindo possui? Sendo já um tradutor de experiência, ele pôde passar por vários trabalhos antes de entregar a versão final de seu Ulysses, sendo que até lá alterou significativamente o texto, composto como anexo de sua tese de doutorado. Além disso, temos, como já disse, um terceiro Ulysses bem diferente dos outros: o de Houaiss era o inovador, o linguisticamente super elaborado, rebuscado, que nos evidenciou um lado de Joyce; o de Pinheiro teve a proposta de tornar o clássico, assustador para os leitores, uma leitura mais acessível e prazerosa, mostrando-nos talvez seu lado mais cotidiano.
Com um público mais afeito à obra-prima joyciana, acredito que Galindo não teve em mente a preocupação de torná-la o mais acessível possível. Isso é perceptível até pela escolha da editora, com seu apoio, de não colocar qualquer nota de leitura no livro para além da introdução. Pelo texto também se nota que temos ousadias formais, que o aproximam de certa maneira da versão de Houaiss, mas elas estão entrelaçadas com humor e com uma linguagem coloquial, bem marcada em muitos diálogos e monólogos interiores. É a formação inicial de Galindo como linguista histórico atrelada a sua posição atual como tradutor e professor universitário.
Para que vocês entendam melhor o que estou falando, selecionei um dos trechos mais famosos do Ulysses, sua abertura, aqui na nova tradução:
Solene, o roliço Buck Mulligan surgiu no alto da escada, portando uma vasilha de espuma em que cruzados repousavam espelho e navalha. Um roupão amarelo, com cíngulo solto, era delicadamente sustentado atrás dele pelo doce ar da manhã. Elevou a vasilha e entoou:
– Introibo ad altare Dei.
Detido, examinou o escuro recurvo da escada e invocou ríspido:
– Sobe, Kinch. Sobe, seu jesuíta medonho.
Pronto: entramos na grande cerimônia (um pouco religiosa) que é o Ulysses. O começo da obra, sempre muito citado em tudo quanto é lugar, já nos diz muito a respeito do que o leitor encontrará nas centenas de páginas seguintes. Já temos aqui algumas oposições do livro, “solene” e “roliço” ao mesmo tempo, em que a sobriedade é sempre zombada, como Buck Mulligan ao simular uma missa com o roupão aberto. Esse espírito persiste quando a mesma personagem chama Kinch, que depois descobriremos se tratar de Stephen Dedalus, de “jesuíta medonho”, evocando sua formação religiosa na escola (algo que sabemos por Um retrato do artista quando jovem), mas também sem adorá-lo, chamando-o “medonho”, vocábulo com certo peso coloquial no português de hoje em dia.
Para além do trecho selecionado, poderia mostrar muitos outros, porém deixarei para que o leitor se decida a ler (ou reler) a obra na nova tradução e, quem sabe, também nas anteriores para decidir por sua tradução-interpretação preferida. Nesse momento apenas digo que é necessário ler a versão de Galindo, apreciá-la como uma obra recém-publicada, inédita, o que de fato é se pensarmos na ideia dos três Ulysses diferentes. Com a ocasião do Bloomsday, o dia em que se passa o enredo do Ulysses, dia 16 de junho, espero que o público brasileiro só se sinta cada vez mais interessado nessa obra e em todo seu potencial de leitura e tradução para que, talvez, daqui uns anos tenhamos outra versão do romance que nos lembre de novo de como sempre é válido se ler James Joyce.



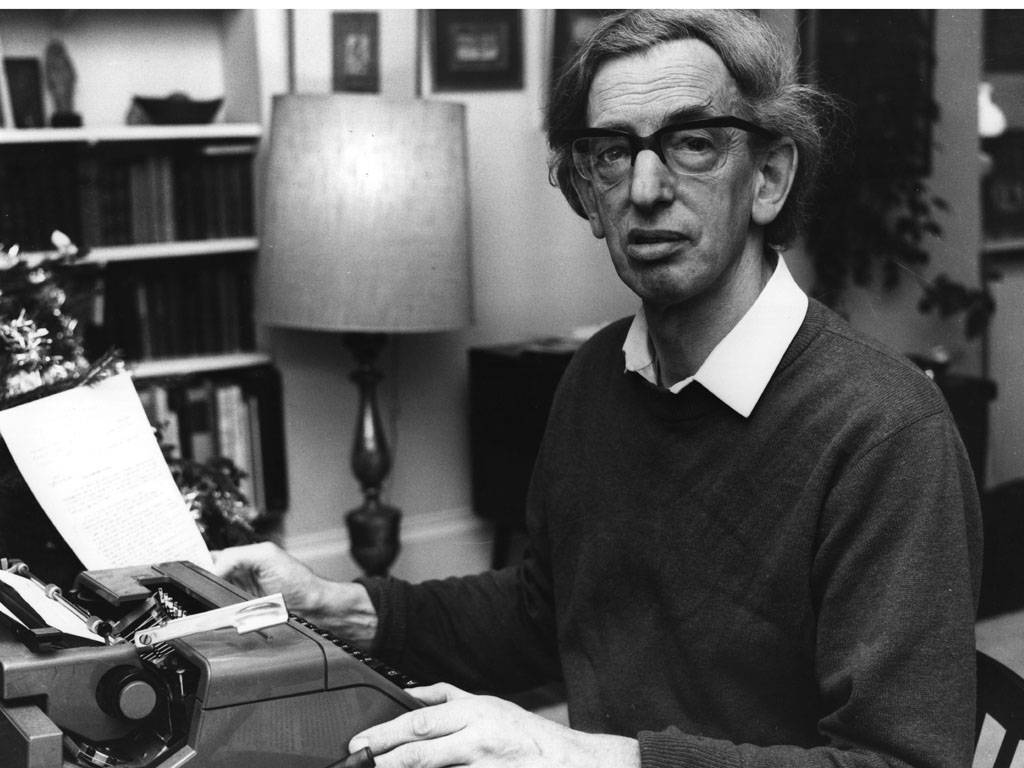
“É bem provável que a primeira pergunta da maioria ao saber que em 2012 seria lançada uma nova tradução do Ulysses (1922), de James Joyce (1882-1941), foi: por que traduzir esse catatau mais uma vez?”
Pessoalmente a minha pergunta foi: quanto vai custar, em se tratando de Companhia das Letras? 😀
Bruce, no site da Companhia das Letras está aparecendo que custa R$47 verdinhas:
http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=85016
Pois então, isso que me surpreendeu: ter ficado tão barato. As edições do Houaiss e da Pinheiro são muito caras.
Mas os livros lançados pela Penguin-Companhia são bem em conta. Não sei qual é o truque (não sei se tem a ver só com a maior parte das publicações estar em domínio público), mas uns catataus como Ilusões Perdidas do Balzac e Grandes Esperanças do Dickens chegam por menos de 40 reais nas livrarias. Melhor para o público, até porque está com o preço bom e isso não significou em nada cortar a qualidade do que é entregue.
Parece que existe um acordo entre a Penguin e a Companhia pra manter os preços até menos de 40 reais. O Ulysses foi até uma exceção nesse (suposto) acordo.
É o máximo, né? E as traduções são top de linha, diferentes das tradicionais de eras atrás. E os livros vêm com aparato crítico antes e/ou depois do livro (na internet também há uns guias de leituras pra maior parte da coleção, senão toda).
Seria interessante contrapor o trecho selecionado com as duas traduções anteriores, já que a minha única experiência com Ulysses foi a leitura do original em inglês (também pela Penguin).
Mateus, preferi não fazer isso para não me alongar muito no texto e me concentrar na tradução nova mesmo. Foi por pura escolha minha mesmo.
Se você quiser ter essa comparação, procure por artigos em jornais como a Folha de S. Paulo e o Estado de S. Paulo que lançaram matérias a respeito, além de outros blogs e sites. Há alguns textos em que há trechos das traduções anteriores.
Falando nisso. http://wp.clicrbs.com.br/mundolivro/2012/06/12/os-ulisses-de-joyce-traducao-e-reacao/
=)
Tomo a liberdade de fazer um modesto, mas relevante jabá.
Na edição abaixo da revista Scientia Traductionis, da UFSC, foram publicados artigos meus e de dois outros colegas, analisando as três traduções brasileiras do Ulysses. Os artigos são reformulações dos nosso relatórios de Iniciação Científica, realizada sob orientação do Caetano.
A mim coube estudar a tradução da Bernardina, que achei a pior de todas.
Gosto da edição do Houaiss, que conseguiu um resultado louvável, principalmente considerando as condições em que trabalhou: pouco tempo disponível, acesso reduzido à fortuna crítica joyciana etc.
Mas minha preferência é pela tradução do Caetano, o primeiro dos três tradutores a levar em conta uma concepção efetivamente romanesca ao tocar o projeto. Além disso, o fato de que ele possuísse uma experiência prévia razoável como tradutor (que Houaiss e Pinheiro não tinham), além da tradução dele ter sido produzida no contexto de um estudo de maior fôlego sobre Joyce – uma tese de doutorado – são pontos que depõem bastante a favor da tradução do Caetano.
Segue o link da revista, com os artigos: http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/scientia/issue/view/1590
Bem mais clara, né? Acho que agora ninguém tem desculpa de não ler por ser difícil.
Eu pretendo lê-lo até setembro. Sobre a Companhia, talvez seja a melhor editora do Brasil. Eu achava que os livros eram molengas, mas agora eu gosto muito. Quando comprei Ulisses, aproveitei e trouxe também A Cartuxa de Parma. Quase trouxe Ilusões Perdidas. Eu tenho uma edição da L&PM pocket, mas não sei, tenho uma implicância, sabe-se lá porque. Um dia eu volto lá e trago.
Muito bom =)